
Estou sentada à beira da cama onde minha vó passa grande parte do seu dia. Ela sorri quando me vê. Elogia minha roupa, meus brincos. Se aproxima, tateia sobre a calça que estou vestindo. Gosta da textura, me fala sobre a qualidade do tecido. Aos 13 anos de minha mãe, quando ficou viúva, foi ela quem passou a tomar conta da loja de casimiras que herdou de meu avô. No porão de casa, recebia os comerciantes, dando prosseguimento aos negócios de seu marido. Nunca mais casou nem se soube de namorado algum. Vivia para minha mãe.
No consultório do otorrinolaringologista, ela relata que algo na garganta a incomoda, “como uma folha de flandres, doutor”. Ele olha para seu filho, também médico, que não entende o linguajar daquela senhora, quase uma centenária, que crescera entre provérbios russos. A todas situações, ela faz uma aproximação simbólica, nunca direta. Translitera para o português o amor à língua da pátria. Da infância, fala sobre seu tio, o camarada Gricha, a quem sem o conhecimento dos pais, ajudava a entregar livros “subversivos” – quando começou a perceber as mudanças geopolíticas de sua amada Rússia, ele já havia sumido para sempre de sua vida. Nos primeiros anos de escola, falava apenas ídish. Com uma colega que sentava a seu lado, foi aprendendo a acompanhar as aulas e a disfarçar sua diferença. Era a primogênita de uma família que não freqüentara a educação formal, de gerações que viviam em gueto. Ao chegar no Brasil, aos 19 anos, era outra vez uma analfabeta.
Convenço-a de irmos até a sala. Quero que me ajude a escolher um dentre os vestidos que trouxe. Só assim consigo demovê-la da cama. Experimento três, ela aponta um sem hesitar e adverte que deve ser usado com um colar discreto devido ao decote. “É clássico e tem o corte perfeito para teu corpo, mas deves ter cuidado com os acessórios para não ficar vulgar”. Sorrio espontaneamente, que gene será esse que vem direto dela para mim? Atentar para detalhes, flertar com o clássico, admirar a beleza em sua forma integral pressupõe uma sensibilidade em extinção. É vaidosa e vê nas rugas marcas da vida; aponta, na coluna social, a foto de uma mulher que quase nem reconhece: a cirurgia plástica deixa as pessoas sem viço, sem expressão. Em casa, diariamente, ela pára diante do espelho e ajeita o cabelo, nas poucas ocasiões em que sai é para ir ao salão de beleza.
Levo-a de volta para o quarto. Ela me convida a ir embora. Uma jovem não deve perder tempo com uma velha, diz com minha mão entre as suas, o olhar de gata siamesa. E então, me faz comer algo e ficar um pouco mais. Lembra-se em detalhes de golpes do destino, de frustrações, das palavras não ditas e de cada uma das pessoas com quem conviveu. Sabe os horários de todos os tantos comprimidos que deve tomar ao longo do dia, vê seriados policiais no Universal Chanel, acompanha as notícias pelo jornal, recorta os textos do Liberato Vieira da Cunha e guarda-os para me mostrar. Nos últimos anos se recusa a cultivar uma vida social, lamenta ser a última viva entre seus irmãos e amigos, queixa-se da escassa visão e audição, do que come e das dores que coleciona. “Devíamos morrer em pé, com todos os nossos órgãos vitais funcionando, como uma árvore”.
Estou na porta do quarto, após várias despedidas, lamentos e conselhos. “Vai, doçura, vai cuidar da tua vida, não precisa te preocupar comigo”. Abano para ela, que da cama me manda beijos. “Mas tu voltas, não é?” Aceno com a cabeça, aprendi a ouvi-la incondicionalmente, a identificar, nas elipses que cria, amor e desprezo à vida. No hall do edifício Primavera, repasso entre o espanto e o orgulho sensações que me remetem ao imponderável daquele convívio.
O agente funerário pede que eu confira os dados no atestado de óbito. “No dia 20 de maio, aos 100 anos de idade, filha de Zeidel e Raquel...”. Palavras se descolam, pessoas e números tomam dimensões ainda desconhecidas. A morte da minha vó marca o fim de nosso ritual de conversas e silêncios e o fim de uma geração de imigrantes. O fim da sabedoria aterradora de um século, pensamento vivo de uma cultura com a qual aprendo diariamente a (re)conhecer minha linhagem e a História que nos possibilitou chegar até aqui. Tenho receio de encarar o mundo a partir de agora, sem ela. Atendo, então, a um dos seus últimos pedidos: leio Tchekhov, ainda que não seja no original, em russo, como queria. “Quando se ama, é necessário nos pensamentos sobre esse amor, partir de algo mais elevado, mais importante do que infelicidade ou felicidade, pecado ou virtude no seu sentido mais corriqueiro, ou então não se deve pensar de todo”. Ela atenta ao movimento dos meus lábios, quer evocar Tchekhov a partir de mim. Decifrará assim um estado de espírito. Nada mais será dito. Adeus família Kesler, nosso Diamant. Cheiro de borsch, silêncio e tudo.

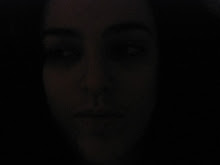
Vivi...
ResponderExcluirQue texto lindo.
`A medida em que lia, lembrava da tua avo' e sentia uma vontade de visita-la mais uma vez.
Lembro de ter brincado em seu piano e de ter saido de la com aquela angustia, aquela inquietude que so o tempo escrito em rugas sabias nos provocam. Lembro daquele sentimento no peito que talvez nao tenha coseguido te descrever, que e' a apreciacao dessa sabedoria assustadoramente bela, de um respeito pela entidade Tempo e do dominio dele nos olhos da tua avo'...
E a cada frase do teu texto crescia um misto de entusiasmo com a beleza da tua descricao e de tristeza `a medida em que o fim se aproximava e me trazia a noticia.
Como as arvores, como um so' verde que ha' no mundo, tua avo' continuara' contigo em todas as calcadas, em todas as salas, em todos os lugares em que respirares. Tenho certeza de que, assim como o ar, tua avo' esta' contigo no teu olhar, na tua voz, no teu suspiro a cada vez que perceberes o Tempo.
Um grande beijo, saudade.
Edu
Vivi,
ResponderExcluirEu gosto muito desse seu texto e vejo nele você e a sua vó. É muito rica a observação sua sobre ela e a sua constatação do quanto ela está em você.
Que bom tê-lo relido.
Beijos,
Ricardo